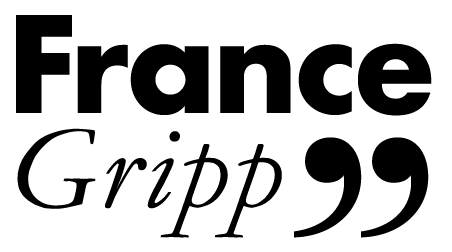Francirene Gripp de Oliveira
LACERDA, Abrão Brito. O amor e outras tolices – 1ª ed. – Maringá: Viseu, 2019.
“Paulo conheceu Joana, uma morena de olhos castanhos e cheiro de cravo, numa quermesse. Vê-se logo que isso foi há muito tempo, pois hoje só existem quermesses no interior do interior do Brasil e nos dicionários” (p.79). Assim se inicia o conto “O amor e outras tolices”, título que também o é do livro de Abrão Brito Lacerda, que é professor de idiomas, tradutor, blogueiro e autor também de Vento Sul (2012).
Nota-se no trecho citado, que a primeira sentença convida o leitor a um passeio por uma tranquila paisagem de signos, mas a sentença seguinte faz com que essa expectativa se quebre. A ruptura desnorteia o leitor, que se vê assim, provocado ao humor e à ironia. Esses são alguns aspectos que modalizam o discurso narrativo do autor nesta coletânea de quinze contos.
Juntos, o humor e a ironia fazem aflorar sorrisos na leitura, suavizam os efeitos dramáticos, dissimulam a acidez da crítica ao contexto social, ou pelo contrário, explicitam com contundência a visão de mundo do autor. Também outra característica se observa neste trabalho, quando a fantasia assume tons de lirismo e esse discurso então passa a atravessar a madrugada romântica da história de alguns personagens.
Nesse conto “O amor e outras tolices”, as tramas de amor e desamor de oito casais são relembradas pelo narrador, que traça seu jogo de linguagem com o apoio da coloquialidade, e entre as estratégias textuais do autor, o emprego do diálogo aparece com grande força de mimese da oralidade. Tudo parece contribuir para o exercício de análises perspicazes das relações humanas. Como a do casal Taylor e Rúbia, para quem o casamento não necessitava de conjugações íntimas: “Era bater os olhos para notar: esses dois são Adão e Eva antes da maçã. Não haveria de ser pecado, poderia até mesmo ser virtude, porque há casais casados há anos que também não transam” (p.80).
O diálogo com o leitor é outra marcante característica da narrativa de Lacerda, como acontece no mesmo conto, no episódio de Eustáquio: “Agora, vejam o Eustáquio: rigoroso. Não dava ponto sem nó, não dava passo maior que a perna” (p.80); e que se repete, por exemplo, neste ponto: “Amar, amaro, disse o poeta. Amar, aroma, digo eu. Amar a Mara, diria o Jonathan, que é o último personagem desta história, pois chega de casos curiosos e ardentes, sendo todos os amores iguais” (p.81).
São inúmeros, os diálogos com o leitor, verificados nestas histórias. Como no agitado caso de amor de Jonathan e Mara (já citado acima): “Muitas perguntas ainda viriam à sua mente, antes do tête-à-tête no Tommy´s, sobre o qual nada saberemos, estimado leitor” (p.85). A esse respeito, pode-se afirmar que as peripécias da dupla terão um desfecho surpreendente, o que não me cabe aqui revelar, puramente pelo fim de assegurar coerência com a política de incertezas do narrador.
“Estimado leitor” – uma vez explicitada a atuação do leitor no papel de fiel coadjuvante das cenas, sabemos que este goza, portanto, de posto qualificado nesta paisagem literária, sendo com frequência interpelado lá pelas tantas dos enredos, quando narradores estão às voltas com a curva de episódios e o comportamento de personagens. Aliás, esses constituem “população” muito diversificada, cujas características urbanas e contemporâneas se coadunam com muito do que conhece e vivencia esse mesmo sujeito ideal de endereçamento, muito convocado como parceiro do narrador/escritor.
Em semelhantes circunstâncias, é sabido que personagens podem ser bastante inconvenientes para com um autor. É com este tipo de problema que, na verdade, o escritor abre seu livro. No conto “Minha vida é uma novela”, a personagem demanda o comando narrativo, argumentando que ela “tinha vivido coisas extraordinárias”, sendo por esse motivo, a “única personagem capaz de contar a própria história” (p.21).
O jogo de estratégias textuais prossegue, com o narrador reagindo com veemência: “Não dou mais bola pra Lídia! Quem não haveria de me dar razão?” (p.21). Entretanto, não foi o que aconteceu. Pelos olhos desta leitora que escreve, toda razão deve ser dada a à personagem, uma vez que Lídia, afinal, demonstrou assumir com competência o comando de sua novela autobiográfica em doze capítulos, com direito a intensas emoções e situações inusitadas, como quando a historieta vista na televisão parece insurgir no espaço narrativo da protagonista narradora:
“Carminha e Jocasta se lançam nos braços uma da outra: ‘Perdão por ter fugido para Nova Iorque com meu padrasto, o venerável Dr. Johnson´, suplica Carminha”. ‘Perdão por ter falhado ao tentar te matar! pede a mãe, de joelhos. As duas se beijam e fazem juras de amor eterno.” (p.32)
Ao atingir este ponto da leitura, pude realmente compreender a apreensão que cercava o primeiro narrador, logo de saída alijado do comando. (Aqui neste espaço, procurei respeitar essa categoria narrativa, não iniciando os comentários pelo conto de Lídia, mas, será que isso valeu de alguma coisa?) Na verdade, penso que ele já adivinhava a mirabolante trajetória da protagonista: “Como pude dar ouvidos a Lídia? Nem as aspas poderiam me proteger após transposto o primeiro parágrafo:” (p.21).
Pois de fato, assim sucede com narradores incautos que não trancam seus personagens em compartimentos, porque eles podem vir a reinar feito déspotas. E o leitor, bem, este fica folgadamente apreciando os episódios e as circunstâncias e, no caso desse conto, se divertindo com direito a ler/ouvir regulares protocolos sonoros de identificação de certa emissora de televisão, como convém às novelas da tradição: “Plim! Plim!” (p. 23 e outras).
E assim, logo que o narrador se permitiu ouvidos à primeira, uma intempestiva fila de personagens surgiu na paisagem literária, a oferecer muitos “panos para as mangas” de qualquer comentarista. Por causa desta abundância de assuntos e temas, para não correr o risco de enormes incompletudes nas observações, é forçoso que eu aborde aqui somente mais dois contos: “Azul” e “Lua nova”.
Em “Azul”, o clima poético predomina, e o cenário é atravessado por referências culturais cinematográficas, musicais e literárias, condicionando enredo e personagens:
“Do azul se diz índigo, mar, terra vista do espaço. A camisa de algodão engomada é azul, o céu da bandeira nacional, os olhos grandes de Isabelle Rossellini, em traje anil cintilante da cabeça aos pés, descendo a escadaria de um hotel quelconque de Paris, movendo os quadris como um barco bêbado, roçando de leve o veludo da boca com uma piteira – azul é blues, cafard e drama.” (p.43)
Surge a história contada por um narrador enamorado, que rememora a felicidade do encontro fugaz com o amor, na juventude:
“O trem desaparecia montanha abaixo, o sol se punha a leste – e o azul celestial se fundia com o azul-turquesa do seu vestido: seus cabelos, seu chapéu, suas unhas, seu cheiro, seu sorriso era azul… Azul é a esperança, dama sonsa que me fez amar por um dia a mulher que nunca mais voltei a ver.” (p.46)
Entretanto, até que se dê o desfecho, o enlevo amoroso vez ou outra é quebrado pelo senso de realidade estética do narrador: “Mas aquela não era Isabelle Rossellini, nem estávamos em Paris, e sim em Belo Horizonte, nas imediações da Praça Savassi. Cheguei em cima da hora, tinha sido duro estacionar.” (p.43) Não sendo por comentários desse gênero, o leitor pode viajar na história com tranquilidade, ouvindo a música Blue Velvet (1984), recordando-se da poesia de Rimbaud e talvez do paladar de uma taça de Martini, enquanto segue La Rubia pelos olhos de seu admirador e suas falas aveludadas em azul.
No conto “Lua nova”, o título pode sugerir outro caso amoroso, mas, é engano endereçado leitor, porque essa escolha mais afirma a simultaneidade de uma presença e uma ausência, um mistério, afinal. E que maior mistério seria do que ter como personagem um próprio Deus, a aterrissar em sua casa, batendo palmas como um velho conhecido que chega para uma visita? Um personagem que, no percurso, permitirá, entre outras maravilhas, o encontro do narrador Carlos Boaventura com o grande poeta por quem ele nutre imensa admiração.
“Coisas assombrosas têm acontecido comigo, tão inverossímeis que reluto em contar. Só o faço pelo dever de nada ocultar ao estimado leitor, que gosta de emoções fortes e abomina as novelas lacrimosas e as falsas esperanças” (p.86). Assegura-nos o narrador no início da história, aparentemente preocupado.
E então, longo périplo de aventuras acontece, em todas elas, estando sempre o afortunado narrador, acompanhado de personagem não menos gabaritado que Deus em pessoa, ou deus – não o Deusdará funcionário da Companhia de Águas e Esgoto vindo fazer a leitura do hidrômetro, como a princípio se supunha.
Para acomodar estranhamentos, o anfitrião resolve cumprir certas formalidades de apresentação: “Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada” (p.87) Ao que retruca o interlocutor, parecendo bastante à vontade: “Pare com essa ladainha! Quer que eu vá embora agora mesmo?” (p.87).
A questão é que, neste caso, um narrador não tem mesmo chance para onisciências, sendo-lhe adequado buscar o entendimento: “Que quereis de mim?” – ele diz. “Que pare de falar como uma gramática da língua portuguesa e me faça companhia por algum tempo” (p.87) – assim responde a personagem Deus, ou deus, caso se queira.
E o conto prossegue, desconstruindo a noção de tempos e espaços; em bom estado de licença para delírio poético. A dupla sai a passeio por Copacabana, no RJ, no ano de 1958, indo em busca do poeta Manuel Bandeira, que vão encontrar “de terno e sapatos escuros, óculos de fundo de garrafa e um discreto guarda-chuva, ou melhor, guarda-sol”. Depois os três seguem para a famosa Confeitaria Colombo, alvo de descrições meticulosas a luxo e beleza, e também de avaliações do tipo: “não era endereço para pés-rapados” (p.91) Divinamente instalados e atendidos, eles passam a conversar amenidades sobre variações da linguagem.
Neste ponto, Carlos Boaventura resolve homenagear o poeta Bandeira com a declamação do poema Piscina, e na tertúlia literária tece com Deus, quer dizer, naquele momento, Alberto, considerações sobre a musa inspiradora, se seria a lua ou a mulher. Foi necessária, a intervenção do autor: “Essa história não faz sentido! ‘Só a lua se banha na piscina verde´. Não há mulher nenhuma, entenderam? defendeu-se Bandeira” (p.94)
E logo a musa palpável se evidenciou: “Francamente, Manuel, você não é o único homem a se apaixonar pela Nara Leão!” (p.94), reagiu Carlos. Com isso, não demorou nada para que os leitores fossem conhecer, junto com o grupo, o apartamento da musa das canções da “bossa nova”, onde a ausência de um certo João ocupou lugar nas expectativas gerais, mesmo depois de ter feito uma fugaz passagem por ali.
A festa terminou na praia, onde a musa e suas coadjuvantes, estiveram na mira de uma câmera fotográfica Rolleiflex. Alberto/Deus posou à vontade, mas Manuel se manteve à distância. O tempo foi exato, exceto para o narrador, que ficou a meio caminho do mergulho nas ondas do mar. Um urgente chamado exigia a presença do altíssimo, que imediatamente interrompeu a programação, recolhendo seus afetos.
Ainda bem que a alegria do autor e seu apetite pela vida, assim como sua maestria no comando dos caprichos das palavras ficaram – nas páginas deste conto e nos outros desta coletânea saborosa e inspiradora!
Belo Horizonte, 14/11/19