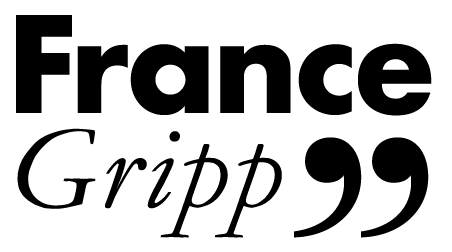A distância de 316km entre Belo Horizonte e Governador Valadares é percorrida em uma estrada difícil de ser vencida. Tem sido a linha entre dois pontos, mais frequentada por mim, no correr dos tempos, e por muita gente!
A BR-381 leva a fama de problemática, mas a BR-262 tem parte na história, porque as duas compartilham o mesmo traçado por 120km em direção a João Monlevade, entre belas paisagens, mas sob a tensão de se rodopiar por 250 curvas.
Caso você não tenha a sorte de voar em uma nuvem azul, ou de comprar um bilhete para viajar de trem posto em sossego, sentirá alívio quando, nessa rodovia, vir surgir o pico do Ibituruna. De Ipatinga até GV, as retas na planície fazem a rodagem bem moleza.
Em sentido oposto, quando colinas, anunciarem Ravena/Sabará, uma sensação de segurança também virá, em que não podemos confiar. As incertezas são muitas no percurso – longas filas por causa de pontos interditados, desvios, desmoronamentos, acidentes, sem falar nos abusos na direção. Por causa tudo isso, inevitável cansaço.
Alguns dizem – ora, essa estrada já foi pior. Precisava ver como era antigamente – insistem outros. O epíteto “rodovia da morte�? é de arrepiar, mas, infelizmente, confere com a realidade trágica, consequência da irresponsabilidade de muitos.
Nessa história de vai-e-vem, a cidade de João Monlevade se tornou meta de meia felicidade. Seja em qual direção estivermos, nos dá uma alegria, ouvir o condutor do ônibus anunciar: Monlevade, parada de vinte minutos! Significa quase metade do trajeto vencido, meio sucesso! Costumo descer tonta, me sentindo enjoada, por efeito das últimas espirais de velocidade. Ainda bem que tem café, pão de queijo, e se pode esticar as pernas.
Se estamos em carro particular, sem querer, sai este discurso: Graças a Deus, já estamos em Monlevade! Outra meta de meio sucesso foi alcançada! É a melhor chance de almoçar com folga, espairecer, encontrar borracheiro, um pernoite, talvez.
Preciso conhecer Monlevade, é a nossa amiga nas paradas de sucesso!
Na minha carteirinha de viajante da BR 381, tem algumas historinhas anotadas. Entre anos 1960 e 70, ela era pouco mais que um caminho de terra. Na estação da seca, triturada pelas rodas dos veículos, a estrada tornava-se poeira fina que se levantava às alturas. Quando criança, saíamos de Valadares de manhã cedo, e chegávamos tarde da noite em Belo Horizonte, sempre com episódios da jornada para contar. Era uma aventura. E não havia escapatória: vidros do carro fechados e calor insuportável, ou, abertos, deixando o pó amarelo dominar. Qual carro tinha ar-condicionado? Nunca soube.
Tempos depois, a rodovia estava quase toda pavimentada, mas o trânsito intenso e as características do traçado sobre montanhas e vales já impunham a duplicação. Ah, as expectativa! A execução das obras, porém, foi acontecendo com a eternidade de verbo no gerúndio – se iniciando, parando, reiniciando, parando – virou caso de looping ao infinito. Só viajantes gabaritados sabem do carrossel de emoções experimentadas quanto às melhorias na estrada: esperança, frustração, raiva, desânimo, resignação – depois, novamente esperança, frustração, raiva, desânimo…
De volta às memórias, nos meses chuvosos, a estrada se tornava uma massa de barro vermelho intenso, até bonito de se ver. Carros como o amado fusca da Volkswagem, que vinham voando pelas curvas fechadas de longuíssimas alças, descendo as encostas como loucos, apostando corridas com carretas vazias, quando não despencavam no abismo, de repente, eram barrados pelo barro.
Certa vez estive em um desses, atolado feito um besouro sem asas, entre veículos de todos os tipos e tamanhos. Então apareciam carroceiros, caminhão de reboque, mecânicos, todos a postos, além de curiosos de boa vontade. Auxiliavam a desatolar essa gente que teimava em viajar no tempo das chuvas. Carregar cordas, cabos, ganchos, lanternas, arames, era indispensável. Não se descartavam, porém, equipamentos movidos a feijão: tinha hora que era preciso juntar a força de braços, para empurrar um veículo morro acima, do contrário, nada se movia, ninguém passava.
Naquela ocasião, enquanto se aguardava a vez do guincho, sempre tinha alguém compartilhando uma farofa (muito bem-vista, então), uma garrafa de café, uns biscoitos, vendendo laranjas da beira-de-estrada. Às vezes, havia boas conversas fiadas, mas também bate-bocas: – Você me cortou pela direita, cara! – e arengas domésticas: Eu falei pra você não entrar por ali! Crianças choravam, brincavam, e de repente todos se mandavam de volta para o carro|: – Entra, entra, que agora a fila vai andar! Nada de telefone celular, coisa nenhuma tecnológica, a não ser o rádio e o toca-fitas do carro, talvez, um fortuito radioamador na região. E a fila ensaiava, mas não desenrolava.
O jeito era torcer para que não anoitecesse depressa, ou para que amanhecesse logo e, enquanto isso, contemplássemos o céu estrelado, conversando sobre extraterrestres e estrelas cadentes. Os parentes tinham que se contentar com os noticiários.
Meu trânsito pela rota BH-GV aumentou a ponto de descobrir que, na pressão de viajar às vésperas do Natal, da Sexta-feira Santa, era possível comprar passagens de ônibus e ir de pé, até onde descesse o primeiro passageiro. Coisas passadas.
Até que, tempos depois, aconteceu um fato que me deixou ressabiada com a rotina das viagens. Prestes a viajar sozinha de carro, desci do apartamento com a mala e um saco de lixo para depositar na lixeira da garagem. Joguei o saco fora, e deixei a mala ali ao lado. Quando cheguei a Monlevade, é que dei pela coisa. Foram cinco dias sem lenço nem documentos em Valadares! Ao voltar, encontrei o olhar curioso e divertido do zelador, que me restituiu o achado da garagem. Melhor desfecho, impossível.
26/03/2023
France Gripp