
Os ventos arranhavam naquele mês de dezembro. Às três da tarde, o dia tinha luz fria de mármore, pondo realce a qualquer cor da paisagem. Paisagem de estranho agreste, em que as árvores se destacavam, sem folhas, escurecidas e ressecadas pela ação do inverno. Eram todas seres solitários, enfileiradas na Palisade Avenue, então um caminho branquíssimo de neve.
Pelas manhãs, os caminhões de limpeza faziam o trabalho de desobstrução, revelando a fita azul escura do asfalto da rua. Nas calçadas, caminhava-se sobre o tapete de gelo. Pessoas limpavam com pás a entrada das casas, enquanto à volta lindos montes de neve se formavam, perfeitos para que as crianças encapuzadas brincassem contentes, em paz com o frio. Cachecóis, boinas, luvas, botas e pesados casacos de lã. Enfeites natalinos nas lapelas. Lojas com sininhos tocando porta de entrada. E o som encantador daquela linguagem curiosa.
Assim são as primeiras impressões sobre Union City, a primeira junto ao Lincoln Tunnel, no estado de New Jersey. Uma cidade plana, com um traçado de ruas entrecortadas em paralelas, pacata e estrategicamente situada, para os brasileiros moradores da região.
O rio Hudson, impávido, mediava essa cidade satélite e a grande estrela que do outro lado resplandecia. New York – densa, bela, concreta e irrecusável – refletia nas suas águas o Empire State Building e o World Trade Center, de onde se despontavam as torres gêmeas, os Twins, uma delas ainda em construção, e seus séquitos, emergentes como uma ânsia coletiva.
Eis o dia determinante da chegada. Imagens faiscando na memória. Impossíveis de serem detidas. Inapagáveis da emoção. O tamanho e a suntuosidade do Aeroporto Kennedy. A esmagadora sensação de surpresa com a tecnologia, a aparência das pessoas, a eficiência dos serviços.
Estávamos em 1969. Brasileiros chegantes aos Estados Unidos da América. Expressamente oriundos de Minas Gerais, e que não estavam destinados ao turismo.
Minhas lembranças vão e vêm neste ano de 2022. Tento resgatar o que foi vivido naquela época e, ainda, o que foi lembrado disso em 1994, ano em que primeiro recolhi anotações esparsas em cadernos, registros feitos em diferentes tempos.
São recortes de uma história que, à medida em que se recompõe na escrita, a leio como falseada, uma vez que a voz que soava antes, não é mais a mesma. Parecem diferentes, as vozes que ouço ecoar no rastro das memórias. Sei que sou eu, mas pareço outra, outras. Não quero desmanchar, porém, a juventude dessas antigas anotações; apenas trançar o ontem e o hoje, brevemente. Seria preciso revisitar as décadas de 60 e 70, para se compreender algo das grandes transformações.
Então, a tecnologia impulsionava um novo modo de abertura dos olhos do mundo; intensificavam-se as trocas de mercado, e acelerava-se o trânsito de pessoas e culturas entre os países. A vida social, familiar e de relações de trabalho, se transformava no ocidente, pela força reivindicatórias das minorias, e segundo a emergência pujante das mulheres. A pílula anticoncepcional foi um marco divisor para todo o sempre.
No Brasil, a ditadura impactava de muitas maneiras, os segmentos da população. Um fluxo migratório passou a ocorrer – que cresceria e persistiria nas décadas seguintes – e uma cidade mineira, Governador Valadares, sem projetos de desenvolvimento para sustentação econômica, tornou-se a base da diáspora de milhares de brasileiros para os Estados Unidos. Brasil: Ame-o ou deixe-o – esse era o bordão do governo militar da época. Então, mesmo amando, muitos partiram em busca de vida melhor.
Para a garota de dezesseis anos, deslumbrada com os novos experimentos de vida, a palavra América pronunciava-se com a doçura do açúcar e a alegria de um sonho bom.
Os aviões zunem como as espaçonaves imaginadas. Nas máquinas pode-se tirar fotografias instantâneas, e compra-se Coca-Cola, que já cai dentro de copinhos. Homens e mulheres bem-vestidos conversam num ritmo de inglês impossível. Parecia o cinema. Tudo é maravilha. Tudo é brilho e rapidez.
Em New York, a população trepidava suas diferenças pelas ruas E tinha hippies! Originais, ao vivo! Destacavam-se os americanos brancos, enfastiados com a vida média. Cheios de Peace and Love, fumando maconha, enrolados em colares e cabeleiras longas, amontoados à direita e esquerda, pedindo que lhes comprassem passagens na rodoviária, contestando o establishment; eram uma inspiração nova.
Muitos grupos de americanos negros exibiam plenitude, vestimentas e linguagem próprias. Abundavam os judeus ortodoxos, de todos os lugares; os Hare Krishna, os budistas, os indianos barbudos, os africanos do sul; e então cubanos, porto-riquenhos, mexicanos e demais hispanos ali invisíveis, como nós, os brasileiros.
O mundo estava a um milhão por hora e eu nem suspeitava. Pouco sabia sobre o Vietnam. Nem o que era guerra fria. Nem de metrô com mais de cem anos. Nem de comida congelada e nem de urbanidade. Nem de pessoas que brigam pelo que pensam. Moças do interior do Brasil costumavam ser alienadas, mais ainda se criadas com sapatos de cristal. Eu não sabia que eram gigantescas, as disparidades entre os dois países.
Durante as dez horas de voo partindo do Rio de Janeiro, com escala em Miami, tentei não me pensar no encontro com o serviço de imigração, às portas da alfândega norte-americana. Nos relatos, os agentes de governo eram vilões, e os que aportavam, suas vítimas, principalmente se vinham do leste mineiro, sem lenço nem documentos.
Mas, na época, o fluxo imigratório ainda não era intenso. Assim, com passaporte de turista, um visto para seis meses de estadia – autênticos – e poucos dólares no bolso, entrava-se nos Estados Unidos.
Chegados ao aeroporto, o táxi do português nos esperava. Tratado desde o Brasil para nos aguardar no Kennedy e nos levar, a preços módicos, através do bairro Queens a Manhattan, e daí a Union City, ele carregava aquela espécie de patrícios, diariamente. O atendimento era particularizado. Dava recados, sabia parentescos. Notícias frescas, verídicas ou não, atravessavam o Atlântico, e muitas passavam por seu carro.
Ainda vejo as primeiras cenas de New York: grandes quadrados cinzentos de concreto, paredes vermelhas cor de tijolos. A profusão de coisas, a multidão difusa, as estéticas. Excitantes mistérios, nada de perigos, pois eu não os via.
Abrira-se o mágico portão imperial americano, para uma convivência de dois anos. O chão estava nas nuvens quando pisei “lá”. Secretamente, eu pensava em Tony Curtis, Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, John Wayne, Burt Lancaster, Audrey Hepburn… Incontáveis estrelas, antigos encantamentos.
Me vejo criança brincando depois de assistir aos filmes da matinê das dez. Éramos “mocinha e mocinho”, “índio e artista”, reis e gladiadores romanos que falavam inglês, moravam em Hollywood e em nossa imaginação. Encenávamos os personagens favoritos com longos vestidos e qualquer coisa capturada nos armários de casa, que pudesse virar espada, escudo, capa, cocar, tiara, flecha, talismã. Para as crenças infantis, tudo se resumia em ser “do bem”, ou do “mal”.
E, afinal, em 1969 tinha a música de Elvis Presley, Bob Dilan, Ray Charles, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Janis Joplin… Os Estados Unidos eram mesmo, demais. O lugar com o qual sonhávamos de olhos abertos. (Me contaram que lá, as portas se abriam sozinhas, e os namorados dormiam juntos!)
Tempos adolescentes, assim verdes e esvoaçantes; quando o Brasil ainda pouco se reconhecia dentro do Brasil, e não projetava com os jovens, o próprio futuro. Acordar do sonho, é que foi triste.
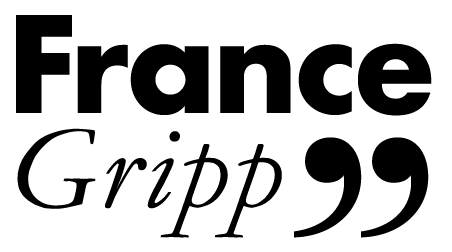

France, é gostoso ler suas histórias. Elas têm um gostinho de quero-mais.